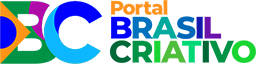O terceiro dia da IV Conferência Dilemas da Humanidade começou com a perspectiva de uma realidade ainda marcada pelas profundas assimetrias da divisão internacional do trabalho herdada do colonialismo e a reflexão sobre a urgência do reposicionamento da política industrial, um eixo estratégico para o desenvolvimento soberano das nações do Sul Global.
Para trazer esses desafios, o debate contou com Esther Dweck (Brasil), ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Surajit Mazumdar (Índia), professor da Universidade Jawaharlal Nehru; Josefina Morales (México), pesquisadora da UNAM; e Lyu Xinyu (China), diretora de pesquisas em comunicação internacional. Sob a moderação de Facundo Barrera Insua (Argentina), pesquisador da Universidade de La Plata, o painel se propôs a discutir como romper a dependência de commodities sem reproduzir modelos predatórios, e como transformar a política industrial em instrumento efetivo de soberania tecnológica e social para as nações do Sul Global.
No Brasil, “empresas são compradas para fechar”
A mesa começou com a análise de Esther Dweck, que faz uma breve apresentação sobre a política industrial e destaca que o contexto atual, marcado por medidas protecionistas como as taxações de Trump. Segundo ela, o momento representa uma oportunidade para os países em desenvolvimento, já que a disputa por hegemonia global abre espaço para a construção de novas relações econômicas diante da ruptura com a agenda liberal.
“Neste momento em que há uma potência mundial claramente dizendo que não dá mais para viver em um mundo totalmente liberal, isso dá mais espaço para os países em desenvolvimento, permitindo mais liberdade para discutir. E, obviamente, isso não significa que seja fácil fazer, mas é um bom espaço de reflexão sobre como utilizar essa oportunidade de maneira mais estratégica, incluindo alianças estratégicas para dar novos saltos”, afirma.
Dweck também ressalta a heterogeneidade industrial no Sul Global e os desafios dos países, com suas trajetórias industriais distintas. “Enquanto nós, como América Latina, temos uma perda grande de participação na industrialização, o Leste Asiático acelera sua capacidade produtiva.” No caso brasileiro, ela lembra ainda que o país atingiu seu ápice industrial nos anos 1970, seguido por uma estagnação proposital, que privilegia a manutenção de um mercado consumidor de máquinas importadas em detrimento do desenvolvimento tecnológico autônomo.
A ministra traz ponderações sobre as causas da desindustrialização brasileira e suas heranças, desde os condicionantes da crise da dívida externa nos anos 1980 – com suas políticas macroeconômicas de juros altos e câmbio apreciado – até o boom de commodities dos anos 2000, que aprofunda a dependência de recursos primários, além de criticar o desmonte do parque produtivo nacional, onde “empresas são compradas para fechar, e não para industrializar”.
“Hoje, trabalhamos muito com os riscos de países em desenvolvimento ficarem para trás neste processo, já que é muito desigual a capacidade de lidar com estas mudanças (…). Quando o Trump recorre às medidas tarifárias, claramente faz com o objetivo de mudar o tom e levar os países a uma negociação bilateral, quebrando totalmente o multilateralismo . Mas o que vemos é a mudança dos países nessa correlação de forças, por políticas mais amplas”.
A diversidade do Sul Global
Surajit Mazumdar (Índia) contribui com o debate trazendo em sua fala como a industrialização tem sido tanto o motor do desenvolvimento capitalista quanto o vetor de profundas desigualdades globais. Assim como os demais em sua mesa, o professor reflete sobre o processo histórico que criou uma divisão internacional do trabalho, concentrando a manufatura nos países ocidentais e no Japão, enquanto o resto do mundo permanece como fornecedor de commodities.
Essa disparidade, segundo ele, só começa a se modificar após a Segunda Guerra Mundial, com o processo de descolonização e o surgimento do campo socialista. “A rápida industrialização do Primeiro Mundo significa que sua supremacia é mantida até o final do século XX (…). Esta é uma das armadilhas da globalização: por um lado, o equilíbrio das forças de classe se desloca, mesmo em favor do capital, mas por outro, você tem o surgimento de uma interligação histórica com a intensificação da exploração dos trabalhadores no Terceiro Mundo”, afirma.
Segundo Mazumdar, essa transição ocorre até hoje de forma desigual – concentrando-se principalmente no Leste e Sudeste Asiático, sendo a China um caso emblemático. Enquanto isso, América Latina, África e até mesmo o Sul da Ásia (com exceção relativa da Índia por seu tamanho) mantêm participação marginal no valor agregado manufatureiro global, revelando como as assimetrias históricas persistem mesmo neste novo cenário.
“Há uma concentração geográfica distinta mesmo nessa mudança em direção ao Sul Global no reordenamento da manufatura mundial. Se alguém olhar para o comércio, verá que a América Latina e a África não conseguem romper com a localização tradicional do comércio internacional. O que muda é que o destino dessas exportações (de commodities primárias) muda, menos para os EUA e mais em direção à Ásia, onde a manufatura cresce.”
Mazumdar reforça a ideia de que apenas uma parcela da Ásia – especificamente as regiões Leste e Sudeste Asiático – consegue se integrar de forma competitiva à nova arquitetura produtiva global, gerando superávits comerciais e rompendo com o tradicional papel periférico, e essa transformação contrasta radicalmente com a situação do restante do Sul Global, onde países permanecem presos a padrões históricos de inserção internacional baseados na exportação de commodities e com limitada agregação de valor.
O professor reflete ao final sobre o caso China, cujo sucesso industrial se deve a condições históricas específicas, mas alerta que mesmo a China não rompe completamente com as estruturas desiguais do sistema global, tendo se inserido em posições específicas (e ainda subordinadas) nas cadeias de valor transnacionais.”Essa análise revela como o atual reordenamento produtivo, longe de democratizar o desenvolvimento industrial, reproduz e aprofunda assimetrias regionais dentro do próprio Sul Global”.
História e dicotomias chinesas
Em sua fala, Lyu Xinyu começa apresentando as interpretações diversas sobre a história da política industrial e desenvolvimento chinês, que oscilam entre caracterizar o país como um “caso excepcional de socialismo” ou reduzi-lo a um “capitalismo nacionalista”. Xinyu argumenta que essas dicotomias podem ser vistas como a extensão da ideologia da Guerra Fria na política dos anos 1990, sutilmente incorporadas nas teorias de globalização e modernidade.
“Quando a China é rotulada como autoritária pela mídia ocidental mainstream, políticos e acadêmicos, o país é retratado em uma narrativa binária de bem/mal, luz/escuridão, em contraste com a ‘democracia liberal’ ocidental. Isso significa que a luta ideológica global não desaparece com o fim da Guerra Fria, mas continua até os dias atuais. Entretanto, o caminho de desenvolvimento da China enfatiza uma combinação de independência e abertura para o mundo exterior”.
Neste contexto, observa-se a necessidade de analisar também a questão agrária e as transformações rurais no marco da história revolucionária chinesa e seu projeto de “modernização com características chinesas”. Xinyu finaliza na defesa de que o caminho de desenvolvimento da China enfatiza uma combinação de independência e abertura para o mundo exterior, buscando alcançar a industrialização e a acumulação primitiva enquanto protege sua independência soberana, além de enfrentar os desafios impostos por restrições e sanções comerciais estrangeiras.
“Hoje, a China também facilita o desenvolvimento de infraestrutura por meio da ‘Iniciativa do Cinturão e Rota’ para apoiar a industrialização em países em desenvolvimento, ajudando-os a superar dificuldades no processo de acumulação primitiva. Essa situação lembra as próprias experiências da China na década de 1950, quando supera dificuldades análogas com o apoio de seu sistema socialista e da cooperação com a União Soviética.”
O sistema de maquiladoras
Na última fala da parte da manhã, Josefina Morales (México) fecha com um panorama das revoluções industriais e como elas significam uma reorganização das economias mundiais. “Nos anos 60 e 70, fragmentaram-se os processos e os dispersaram pelo mundo. Um desses fragmentos, o mais fraco, é a mão de obra que gera pouco valor agregado, a maquiladora”.
Este modelo de produção industrial envolve o processamento ou montagem de produtos em um país, característico de países em desenvolvimento, onde as empresas montam produtos a partir de componentes importados. As maquiladoras são frequentemente associadas a cadeias globais de valor, e, no caso do México, surgem como uma forma de integrar a economia mexicana ao mercado norte-americano, sendo fortemente promovido pelo Banco Mundial.
“Desde os anos 90 vemos maquiladoras no Vietnã, Filipinas, Bangladesh, entre outros. Esse processo não responde aos nossos processos de industrialização, mas faz parte da economia norte-americana. Depois, essa ideia se fortalece com os tratados de livre comércio (TLC), que se sintetizam na maquiladora do ano 2000”, afirma Morales.
A autora menciona que a maioria da mão de obra nas maquiladoras, especialmente no início, é composta por mulheres, mas que esta força de trabalho se torna mais equilibrada entre homens e mulheres, especialmente nas indústrias automotivas. O padrão desigual de desenvolvimento industrial mexicano também é um ponto trazido por Morales, que ressalta as crises profundas e uma reconversão produtiva dependente dos ciclos econômicos dos EUA.
Embora as maquiladoras representem apenas a sexta ou décima parte do processo industrial do México, seu modelo extrativo condiciona toda a dinâmica industrial do país. Esse modelo, segundo a especialista, revela uma paradoxal “desindustrialização industrializada”: o México avança em volume de produção, mas regride em capacitação tecnológica e qualidade do emprego, consolidando-se como plataforma de mão-de-obra barata para as cadeias globais comandadas pelos EUA.
Por fim, Morales traz que hoje a questão que se coloca é como desenvolver uma alternativa de desenvolvimento industrial com uma perspectiva nacional. Sob a administração de López Obrador, há um aumento no salário mínimo, enquanto a gestão de Claudia Sheinbaum, atual presidente do México, defende a criação de polos industriais que promovam o bem-estar, apesar de esses territórios estarem sob forte controle do capital. Para Moraes, o desafio reside, por um lado, em aspectos internos, que são mais estruturais e produtivos, e, por outro, em como enfrentar a ofensiva do ex-presidente Trump, de natureza fascista.
“A construção de uma alternativa de desenvolvimento industrial se insere em uma perspectiva maior que deve contemplar o desenvolvimento nacional totalizador e integral, a construção de uma política de complementaridade industrial com Nossa América, uma diversificação mundial do nosso comércio exterior e da participação de outros capitais, além do norte-americano, na atividade econômica, particularmente na indústria manufatureira”.
Diálogo entre governo e sociedade
Com mais de 60 convidados internacionais — entre economistas, intelectuais, lideranças políticas e sociais do Sul Global —, o Encontro Internacional Dilemas da Humanidade: Perspectivas para a Transformação Social busca articular propostas concretas para a construção de uma nova sociedade, mais justa e solidária. A participação da ministra reforçou a importância do diálogo entre governo e movimentos populares na formulação de alternativas viáveis para o enfrentamento das desigualdades e dos impactos das mudanças climáticas.
O evento, que teve início no dia 7 de abril e segue até o dia 10, é organizado pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Alba Movimentos e Assembleia Internacional dos Povos.